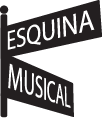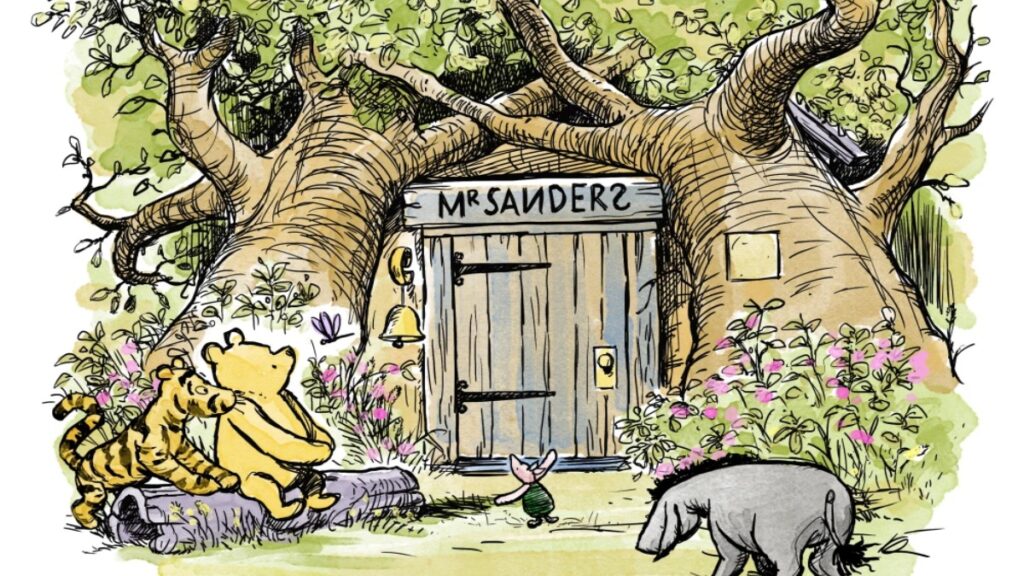*por Raphael Vidigal Aroeira
“– Eu lembro – ele disse –, mas o Pooh não lembra muito bem, por isso ele quer ouvir a história de novo. Porque então é uma história de verdade, e não só uma lembrança.” A. A. Milne
Das histórias infantis podemos tirar muitas coisas – essa palavra de amplitude genérica –, inclusive aprendizados imprevisíveis. Tome-se, por exemplo, a história de Ursinho Pooh, o simpático personagem criado pelo inglês A. A. Milne que se tornou conhecido de toda uma geração graças aos desenhos animados dos estúdios Disney. O que aquele ursinho de pelo amarelo e camisa vermelha, fanático por mel, com seu andar vagaroso e a cabeça sempre nas nuvens tem a nos dizer? Sem dúvidas, muitas coisas, tantas quantas são as possibilidades desta vida. Mas, para efeito de uma apreciação mais proveitosa e precisa, iremos nos deter sob um aspecto não tão visível.
Queremos saber o que o Ursinho Pooh de Milne levou – em termos estéticos – para a poderosa multinacional norte-americana, o que lhe foi adicionado ou subtraído, ampliado e mantido, quais as consequências desse processo de adaptação e o que se perde e se ganha quando uma linguagem artística é transposta para outra mídia. Especificamente, tentaremos compreender como a perspectiva episódica e seriada se faz presente tanto na obra literária quanto na audiovisual, aspecto-chave que estaria na base dessa transposição de sucesso comercial, midiático e crítico ao longo do tempo.
No ensaio A Inovação no Seriado, publicado em 1989, Umberto Eco nos oferece concepções valiosas para tal análise. Ali, o crítico italiano argumenta a favor da atemporalidade da série, e contesta a noção de “original” e sua pretensa superioridade.
(…) muita arte, portanto, foi e é serial; o conceito de originalidade absoluta, em relação a obras anteriores e às próprias regras do gênero, é um conceito contemporâneo, nascido com o romantismo; a arte clássica era amplamente serial e as vanguardas históricas, de vários modos, deixaram em crise a ideia romântica da criação como estreia no absoluto (Eco, 1989, p.133)
Logo, não nos permitimos cair na ingênua ideia de fidelidade como parâmetro de comparação entre o Ursinho Pooh que aparece nas páginas dos livros e o que se tornou um produto planetário a partir do momento que teve sua imagem cristalizada na tela, tampouco aferir vantagem para a obra de Milne pela simples razão de ter inspirado, servido de molde, fundamentado, enfim, sido adaptada pelos estúdios Disney. Nesse particular, convém salientar a importante participação de Ernest Shepard, ilustrador das histórias publicadas em livro por Milne, o que evidencia a presença de um processo colaborativo de criação – certamente em menor escala que aquele de um estúdio – mas que coloca em pertinente crise o status do autor como figura de autoridade.
Afinal de contas, o quanto dos traços de Pooh e seus amigos da floresta contam da história que Milne elaborou em palavras? É conveniente estabelecer essa hierarquia entre texto e imagem no plano da literatura infantil? E, quando o Ursinho surge-nos como desenho animado, suas frases têm menos impacto que a figura rechonchuda, simpática e tridimensional que já se esboçava de maneira plana na página do livro? O fato é que este personagem sempre foi feito de imagens e palavras.
Da ilustração para a animação
O que o Ursinho Pooh nos traz é essa mistura desde a gênese. Se a adaptação audiovisual contou com essa referência imagética de saída, o que pode ter contribuído para o engajamento de estúdio, público e críticos, não se pode ignorar que a transformação do material segue presente. Uma ilustração para livro possui características diversas de um desenho que se destina à animação. A começar pela dimensão bidimensional do primeiro e a tridimensional do segundo. No entanto, não deixa de configurar uma deliciosa curiosidade que a adaptação da Disney tenha conservado, em vários momentos, qualidades próprias aos desenhos feitos à lápis. Assim, um tridimensional Ursinho Pooh interage com uma paisagem bidimensional na animação de 1977, quando escala e depois despenca de uma árvore em busca de mel.
Afora isso, é nítido que a Disney emprestou um traço mais plástico, leve, quase flutuante, afeito à amplitude do público infantil que pretendia atingir, em relação a certa rusticidade que observamos nos animais em preto&branco de Shepard. Mantém-se, por assim dizer, uma fisionomia comum a Pooh, Leitão, Abel, Tigrão, Corujão, Ió, Can e Guru que os permite identificar e relacioná-los de imediato às criações de Shepard, dotando-as de detalhamento, definindo-lhes melhor as feições que, para completar, recebem a claridade inquestionável das cores que são muitas e diversificadas, e, embora em tons pastéis e amenos, sem a saturação e o brilho de desenhos contemporâneos, não deixam de conceder expressividade mais ágil às personagens.

Impossível dissociar tal estratégia da própria movimentação do desenho na tela. Shepard, quando procura ilustrar um movimento, mostra-nos o burrinho Ió em busca de seu rabo em diferentes posições, mas ele permanece estanque na página. Inversamente, mesmo congelados, intuímos os saltos do Tigrão criado pela Disney, o voo alçado pelo Corujão e até o olhar perdido de Pooh diante de um dilema. Não menos relevante é o acréscimo das vozes. Enquanto no livro a voz de uma personagem nasce da abstração criada pela nossa mente, a tela as concretiza pelo trabalho de dubladores que contribuem para a definição das personalidades. O ganido apavorado do Leitão, o ronronar vaidoso do Tigrão, o lamúrio melancólico de Ió e a impaciência controladora de Abel se tornam palpáveis graças aos contornos da voz.
Texto falado e texto escrito
A oralidade é um traço explícito na escrita de A. A. Milne. Isso posto, o texto escrito, ainda que mimetizando a sintaxe da fala, é muito diferente daquele que comparece na boca de uma personagem. Não apenas pela referida consistência adquirida com a voz, mas pelas próprias nuances que cada linguagem oferece. No primeiro plano, existe a maneira elementar como recebemos esse texto ao correr o olho pela página do livro e ao assisti-lo através de imagens. Ler é diferente de ver, embora essas condições se entrelacem com frequência nos domínios da arte.
Milne estabelece um diálogo direto e claro na forma de seu narrador tanto com o leitor quanto com Christopher Robin, a criança que escuta suas histórias no âmbito da própria história, ou seja, temos uma obra que se desdobra, justamente por essa dupla e ambígua relação entre fantasia e realidade. A começar pelo fato de que o nome do filho de Milne é emprestado à criança-personagem. Portanto, essa contaminação entre a vida do autor e suas estratégias narrativas está dada desde o início e fundamenta uma parte relevante da premissa de Ursinho Pooh, um livro infantil dedicado a narrar as desventuras de uma personagem que possui um referente igualmente fictício na realidade. O simpático protagonista é um bichinho de pelúcia.

Por sinal, a animação tem na exploração desse detalhe um de seus pontos-fortes. Enquanto no livro é o texto de Milne (e não as ilustrações de Shepard) que nos informam sobre a natureza das personagens, na animação – além da costura aparente em cada bichinho de pelúcia que configura um mérito inegável dos desenhistas da Disney – chega-se ao cúmulo cômico de Pooh se descosturar ao abaixar para realizar exercícios matinais, e, esticando os braços atrás das costas, realinhar a costura (em outro filme da franquia é a maternal Can quem remenda o ursinho atrapalhado). Na mesma cena, esse apreciador incorrigível de mel realiza uma rotação total com a cabeça. Eis toda a liberdade de que desfruta um ser que não é real.
Aqui temos uma das questões mais interessantes da obra – tanto a literária quanto a adaptada. Milne não trabalha com a ideia de que a criança deva ser iludida e ludibriada por um universo fantasioso, ele realiza a mistura entre esses dois registros (real e imaginário), o que nos fornece a inusitada perspectiva de que, para ele, os pequenos leitores têm consciência de que trata-se de uma narrativa, tanto quanto Christopher Robin, que, no entanto, diverte-se com o contar das histórias com questionamentos que invariavelmente remetem à sua vida cotidiana.
A criança, aliás, gosta de agir como se soubesse mais do que realmente sabe, o que é tornado efeito cômico nas narrativas que Milne inventa a partir da interação do filho com seus bichinhos de pelúcia. O garoto, ao pedir para ouvir novamente uma história, coloca na conta de Pooh o esquecimento e estabelece uma curiosa distinção: “Porque então é uma história de verdade, e não só uma lembrança. (Milne, 2018, p.33)”. Afinal o que inventamos tem mais “verdade” do que aquilo que nossa memória nos conta? Eis uma intrigante provocação sugerida despretensiosamente por Milne. Além do mais, a história, ao ser narrada, fica palpável, recebe uma forma que a confere espessura, em contraposição ao caráter abstrato daquilo que apenas vivenciamos.
Se a conversa do autor com Christopher Robin se expressa no livro pelo uso de travessões, assim como os diálogos entre as personagens da história que é contada à criança (Pooh, Tigrão, Abel, Ió, Corujão, Leitão, Can e Guru), Milne assume, desde cedo, a artificialidade do relato revelando-nos a “moldura” com sua ironia, e exibindo uma condição alheia à ela, como no encerramento do capítulo intitulado Quando o Leitão fica totalmente cercado pela água: “Como este é mesmo o fim da história, e essa última frase me deixou exausto, acho que vou parar por aqui.” (Milne, 2018, p.154). Esse artifício surge como um dos mais interessantes na transposição feita pela Disney.
Além de “abrir” o livro que aloja as personagens, o narrador do desenho também conversa da mesma maneira amistosa com o espectador e com aqueles animaizinhos em formato de pelúcia. Coloquial como no livro, a narração reproduz inúmeras vezes frases idênticas àquelas construídas por Milne sem perda da naturalidade, o que só é possível pelo tom descontraído que marca a escrita do inglês. Se aqui a fidelidade ao texto colabora para essa espécie de espelhamento, não podemos deixar de notar que o desenho, em razão de sua expressividade característica, muitas vezes realça e até aprofunda ironias disfarçadas sob o estilo provocativo de Milne.
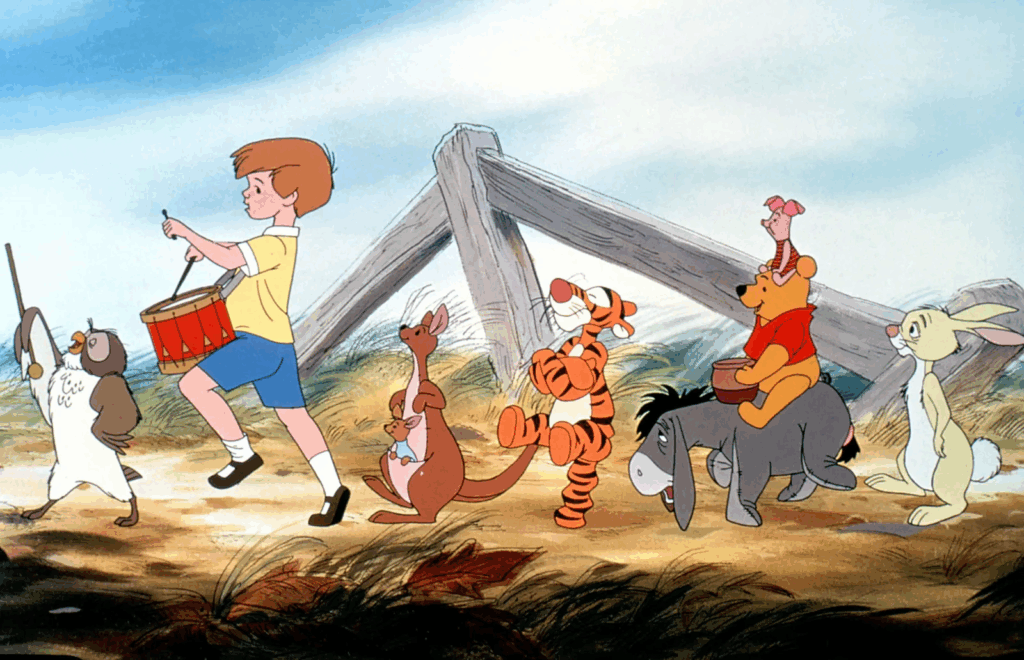
Longe de prejudicar a sagacidade das tiradas cômicas, o que se constata é uma versão renovada das mesmas – como a piada que recebe outra respiração, outra pausa e um fulgor diferente. Para além disso, o que Milne e Shepard procuraram explorar com parcos recursos conta com um auxílio tecnológico mais vigoroso no caso da animação. Milne chega a antecipar singelamente o jogo gráfico com as palavras que marcou a poesia simbolista de e. e. cummings para incrementar a potência de uma frase, como quando Pooh sobe em uma árvore e as letras são dispostas horizontalmente na página. Ou quando elas alternam de posição para ilustrar o sobe e desce atordoante vivido por Leitão ao ser carregado por engano no bolso de Can.
Na animação, além de surgirem literalmente no interior do livro, os personagens interagem com as letras e páginas, dotando de forte teor narrativo a figura da obra literária, não apenas no aspecto visual, mas efetivamente do texto. Os exemplos são vários. Quando Pooh é alçado aos ares sua figura rechonchuda extrapola as beiradas das folhas e o castor Roque-Roque grita: “Cuidado, ele está voando para fora do livro!”. Ao final da história, Pooh não quer deixar a árvore de mel onde se lambuza e o narrador o adverte: “Mas você já está na outra página”. O mesmo ocorre com o Tigrão em seu medo de descer da árvore. Ele implora pela ajuda do narrador que, além de contar que Tigrão já está lá embaixo, vira o livro de lado para que o animal deslize pelas letras. O professoral Corujão fala “da página 31 até a página 87”, como nos informa o narrador, e isso é o que nos conta e mostra o tempo que dura a tempestade, que molha e desmancha as letras pretas impressas nas folhas do livro. Tudo isso reafirma a preciosa perspectiva de Milne de que a criança tem consciência da fantasia.
Dramaturgia em dois níveis
Podemos agora investir na dramaturgia propriamente dita da narrativa. A primeira vez que o Ursinho Pooh apareceu em livro foi no formato de versos em um livro infantil publicado por Milne em 1924, mas ele ainda não atendia pela alcunha. Misturando a ludicidade infantil ao nonsense de Lewis Carroll (celebrizado como autor de Alice no País das Maravilhas, de 1865), o autor empresta à sua personagem diversos nomes que não sustentam nenhuma explicação lógica, pelo contrário, e o descompromisso de Milne em ofertá-las é um dos trunfos de sua literatura. Até que se consagre como Pooh o ursinho de pelúcia é também chamado de Winnie e Eduardo. No natal de 1925 é que ele surge, numa publicação de um jornal londrino, como Pooh. Em 1926 é enfim lançado o primeiro livro em prosa, batizado Winnie-the-Pooh, cuja introdução reproduzimos a seguir.
Se por acaso você já leu algum outro livro sobre Christopher Robin, deve lembrar-se de que ele tinha um cisne (ou era o cisne que tinha Christopher Robin, não sei bem), e que o cisne se chamava Pooh. Isso foi há muito tempo, e quando nos despedimos trouxemos o nome conosco, pois achamos que o cisne não ia mais querê-lo. Ora, quando Urso Eduardo disse que queria um nome muito especial, só para ele, Christopher Robin nem parou para pensar, e já foi dizendo que ele se chamaria Winnie-o-Ursinho Pooh. E assim foi. (Milne, 2018, p.11)
As artimanhas do autor devem chamar nossa atenção pelo prazer que ele demonstra em pregar peças e se divertir às custas do leitor. Milne propõe esse jogo ocultando e exibindo aquilo que deseja transmitir, ao modo do teatro crítico de Bertolt Brecht que se revela como tal explorando as potencialidades teatrais, recusando peremptoriamente o naturalismo e a crença de que seria possível reproduzir a realidade. A começar pelo fato de que, inicialmente voltado ao público infantil, o livro ofereça percepções de ordem filosófica, reflexões metalinguísticas e tiradas cômicas notadamente direcionadas aos adultos capazes de distingui-las, estabelecendo, assim, um dramaturgia em dois níveis (oculta e aparente; infantil e adulta; alegre e triste; etc). Para começo de conversa: o livro é sobre Christopher Robin? Nos parece que não, embora se direcione a ele. A narrativa claramente concentra-se em Pooh, o verdadeiro protagonista. Mas Milne está dizendo essas palavras para nós ou para a criança? Para os dois, tanto o filho a quem conta histórias quanto o adulto que captará suas sutilezas.
Em 1928, Milne publica o segundo e último livro dedicado à personagem, The House at Pooh Corner, traduzido no Brasil como A Casa no Cantinho do Ursinho Pooh. Baseado nos contos presentes nessas duas publicações, a Disney começou a realizar uma série de adaptações a partir de 1966. Uma década mais tarde, em 1977, o estúdio produz o filme As Muitas Aventuras do Ursinho Pooh, reunindo quatro episódios que já havia lançado no formato de curtas. Diferentemente de Milne, a multinacional preocupa-se em dar coerência aos episódios dispersos e, a fim de conectá-los em uma única história, amplia o escopo das criações de Milne. Embora apareçam sobretudo nesse longa-metragem, as histórias de Milne inspiram outros filmes, séries, especiais de Natal, Páscoa e Dia dos Namorados da Disney, além de brinquedos e outros produtos de ordem midiática, configurando-se em uma franquia de enorme sucesso.

Porém, por impossibilidade de abarcar esse universo demasiado extenso, iremos nos deter sobre a adaptação que resultou no longa-metragem de 1977. Aqui, como já foi dito, ocorre uma ampliação das histórias criadas por Milne, com cenas e sequências inteiras absolutamente ausentes dos livros, cujo sentido não raro é o de explorar novos efeitos cômicos ou fornecer uma coerência interna ao conjunto da trama, interligando os episódios com ganchos mais ou menos definidos, tarefa à qual Milne é indiferente, como se nota ao abordar na trama o nome nada fático do avô de Leitão: “E o avô tinha dois nomes, para o caso de perder um: Invasores por causa de um tio e Serafim por causa de nada.” (Milne, 2018, p.47).
Perde-se aquela liberdade casual, lúdica, descompromissada, em prol da coerência, sem comprometer o humor, substituindo o absurdo pelo meramente patético na maioria dos casos. No entanto, ganha-se na extensão da história ao mesmo tempo em que as personagens se tornam menos planas não apenas no campo visual, mas também simbólico. Elas se tornam mais aprofundadas e definidas, a despeito dos estereótipos a que correspondem (Tristeza, Alegria, Raiva, Medo etc.). Por exemplo, para quem já assistiu ao longa de 1977 são inesquecíveis as tentativas do coelho Abel em fornecer ao traseiro do Ursinho Pooh preso na entrada de sua toca uma aparência mais agradável para melhor suportar o azar, transformando-o de mesa com jogo americano a troféu de caça cujos chifres lembram um alce.
O mesmo se verifica quando Pooh desiste, no livro, de roubar mel das abelhas simplesmente por considerá-las más, enquanto na animação ele é perseguido loucamente por elas até se refugiar com Christopher Robin sob um guarda-chuva numa poça de lama. Todavia, o que se mantém também pulsa com força. Pooh, desconfiado de que as abelhas desconfiem de suas reais intenções, diz que nunca se pode ter certeza, frase reproduzida literalmente na animação. A carga filosófica que se disfarça sob a singeleza da observação é o aspecto distintivo desta obra, que a Disney soube bem preservar. Menos rabugento do que no livro de Milne, o burro Ió, tratado por Bisonho no filme de 1977, não abre-mão de suas frases deliciosamente melancólicas.
A ampliação em relação à fonte chega àquilo que o professor Marcio Serelle aborda em seu artigo A adaptação como ficção expandida na série contemporânea, de 2022. Temos, em As Muitas Aventuras do Ursinho Pooh a invenção de uma personagem totalmente nova, o castor que atende pelo nome de Roque-Roque e cuja piada é essencialmente dizer aos outros personagens, e ao espectador por conseguinte, que ele não está no livro. Em outro momento, a simples menção a um sonho do Ursinho Pooh no livro de Milne ampara toda uma sequência de teor onírico e surrealista em que o personagem vê-se assombrado por Efalantes e Dinonhas (cuja subversão gramatical nos traz novamente à memória o estilo de Carroll) que cobiçam o seu precioso mel. Diante disso, não podemos resistir à provocação de Eco, que sugere “o nascimento de uma nova sensibilidade estética, muito mais arcaica, e verdadeiramente pós-moderna.” (Eco, 1989, p.135).
Afinal, é imperioso notar que as adaptações para o Ursinho Pooh, com todo seu aspecto serial e episódico, já exibiam, na década de 1970, características caras às transposições contemporâneas, como a ampliação, o aprofundamento e a democratização da ficção populacional em contraponto à condensação e à síntese que o escritor e teórico francês André Breton tratou como digestivo em seu artigo publicado em 1948. Em relação à franquia, por exemplo, personagens secundárias como Tigrão e Leitão ganham filmes próprios, o pequeno Guru, filho de Can, é alçado a protagonista do especial de Páscoa e do longa-metragem sobre o Efalante, relegando Pooh, em todos esses casos, a uma suave coadjuvância.
A variedade da repetição
Eco, no entanto, está se referindo à serialidade e à ideia da repetição que ela comporta. O crítico literário investe contra a noção de que o valor de uma obra estaria relacionado à sua “originalidade”, concepção por demais vaga e romântica. Superado esse obstáculo, permanece o espanto diante da quantidade de adaptações e reproduções originadas pelo Ursinho Pooh, menos porque tal consequência seja altamente realizável do que pelo fato de que na história do ursinho em questão pouca coisa aconteça e quase nada se desenrole. À bem da verdade, os personagens e suas histórias (ou seria o contrário? As histórias e suas personagens) andam em círculos.
O fenômeno de que estamos diante nesse campo da serialidade talvez seja aquele definido por Eco como “espiral”. “Nas histórias de Charlie Brown aparentemente acontece sempre a mesma coisa, aliás, não acontece nada; ainda assim a cada nova tira o personagem Charlie Brown fica mais rico e profundo.” (Eco, 1989, p.124). Como já foi dito, o mesmo acontece com essas personagens de construção precária no sentido de obedecerem a estereótipos. Ao mesmo tempo, tornamo-nos com o tempo, indispensável à lógica da repetição, afetivamente íntimos das desventuras de criaturas tão delicadas quanto propensas a incorrerem exaustivamente nos mesmos erros. O Ursinho Pooh talvez seja, ao menos para o público adulto, uma comédia de erros.
Eco já havia reparado que na commedia dell’arte italiana os atores variavam minimamente “com base num esquema preestabelecido”, identificando “representações que contavam sempre a mesma história.” (Eco, 1989, p.121). Se o prazer do espectador advém dessa previsibilidade confortável, pedagogicamente importante para a fruição da criança, não causa menos impacto que essa história reapareça inúmeras vezes sob diferentes registros e formas. Como anota Eco, a série “responde à necessidade infantil, mas nem por isso doentia, de ouvir sempre a mesma história, de consolar-se com o retorno do idêntico, superficialmente mascarado.” (Eco, 1989, p.123). A conclusão do crítico italiano parece subversiva porque revela justamente na repetição uma perspectiva de eternidade – paradoxal ao ponto de conservar a finitude.
O verdadeiro problema é que o que interessa não é tanto a variabilidade quanto o fato de que dentro do esquema se possa variar ao infinito. E uma variabilidade infinita tem todas as características da repetição e pouquíssimas da inovação. O que é aqui celebrado é uma espécie de vitória da vida sobre a arte (Eco, 1989, p.134)
Percebe-se que a serialidade do Ursinho Pooh concerne não apenas à forma da adaptação, mas ao seu próprio conteúdo. O filme de 1977 trabalha as cenas a partir de um esquema que tem como referencial as quatro estações do ano (distintas em sua repetição e periodicidade). O que se poderia considerar episódico torna-se serial no sentido de que, em cada nova desventura, ressurgem os personagens com seus estereótipos, repetindo os comportamentos com mínimas variações, decorrentes apenas da dimensão dos dilemas, que também não se alteram.
A Disney chega a brincar com isso no episódio em que o coelho Abel (com seu adulto senso de responsabilidade) decide ir embora do Bosque dos Cem Acres porque não aguenta mais “Tigrões puladores, Leitões medrosos, Poohs que só pensam em mel e Bisonhos tristes”. Ao ir em busca de onde não haja tal coisas, o Tigrão inquire: “Eu me pergunto que lugar seria esse?” e o Coelho responde: “O Paraíso!”. A piada não se restringe ao enredo, mas à própria forma da narrativa, conversando, paralelamente, com a trama interna e nosso conhecimento externo acerca da mesma. O auge dessa repetição é o arremate da obra. Em Ursinho Pooh, Milne encerra a primeira e a última história com a mesma frase, ao mostrar Christopher Robin levando o seu bichinho de pelúcia predileto para o banho, sublinhando esse caráter cíclico.
Já as animações da Disney preferencialmente se valem do final construído pelo autor britânico em A Casa no Cantinho do Ursinho Pooh, que ele definiu como o último do personagem. Em vários filmes, episódios e séries, nos despedimos de Christopher Robin e seu rechonchudo amigo costurado com o aviso emocionado do narrador de que “aconteça o que acontecer com eles no caminho, naquele lugar encantado no topo da floresta, um garotinho e seu urso estarão sempre brincando”. O desfecho encontra a criança em vias de ir à escola, onde não poderá mais “fazer nada”, sua distração predileta, da qual Pooh compartilha. É um recado explícito sobre a nostalgia da infância, a dor de um tempo perdido no qual a pureza da inocência permanecia intacta.
Talvez seja também por isso que nas histórias de Pooh não aconteça nada, afora o próprio desenrolar da vida e suas camadas imperceptíveis à vacuidade da ação pragmática. Em pequenas pinceladas e observações temperadas de humor, ironia e sagacidade, o autor nos convida a refletir sobre o dia a dia, a cotidianidade de uma criança entregue ao presente que logo terá que se encontrar com o horizonte do crescimento e da consequente morte (seja da infância, no campo simbólico; ou da própria matéria, numa objetividade orgânica direcionada ao entendimento do adulto).
Pooh, afinal, vive a cantar e criar poemas de verve inegavelmente infantil, tão descompromissados quanto devem ser as brincadeiras de qualquer criança. Por trás das tiradas espirituosas, divertidas e patéticas das personagens emerge uma reflexiva camada de observações contundentes, em que se estende uma cortina melancólica. Milne fala para seu filho sobre os sonhos e, para nós, adultos, sobre a dor de perdê-los.
Considerações finais
Criado por A. A. Milne e ilustrado por Ernest Shepard, o Ursinho Pooh já apresentava em sua gênese características caras à noção de serialidade tanto em sua forma quanto no conteúdo, notadamente a mínima variabilidade que opera no escopo de um esquema fixo. Ao adaptar esse universo literário para o plano audiovisual, os estúdios Disney lançaram mão de estratégias identificadas com as séries contemporâneas, como a ampliação do universo ficcional mediante a criação de personagens, situações e cenas, chegando, inclusive, a colocar o próprio protagonismo da trama em rotatividade por meio de filmes, séries e episódios que compõem a franquia. Não se observa, necessariamente, a superação do audiovisual sobre o livro. Tampouco constata-se uma incontornável superioridade da obra literária. As diferenças, tanto quanto as semelhanças, apontam para a riqueza de ambos os processos criativos mediante escolhas e possibilidades que lhes determinam diferentes perdas e ganhos.
O mais curioso é notar essa característica contemporânea em uma adaptação iniciada em fins da década de 1960 a partir de uma obra publicada nos anos 1920. A aura clássica, por assim dizer até anacrônica do Ursinho Pooh recebe, a partir dessa perspectiva, um fôlego renovado, que, ao situá-lo no âmbito de nossas mais recentes e ousadas produções no campo da serialidade nos provoca a colocar continuamente em questão as ideias relativas à temporalidade ao definir algo como antigo, novo, original ou ultrapassado. Ademais, é próprio da arte questionar as certezas e instaurar dúvidas.
Especificamente ambíguo, o Ursinho Pooh nos fala – e mostra, pelo poder da imagem e a perspicácia do texto – desde seu nascimento a partir de duas instâncias: irônica e pedagógica; feliz e melancólica; realista e sonhadora; adulto e criança; lembrança e fábula; e até, se quisermos, romance e conto. Existe uma história contínua para a qual convergem todas essas histórias dispersas, aquela do garoto que brinca com seus bichinhos de pelúcia: a estrutura-fixa é o romance; e, as pequenas variabilidades são os contos, episódios, filmes, séries, objetos de consumo etc.
Das histórias infantis podemos tirar muitas coisas. De preferência, poucas conclusões e curiosas perguntas. Cíclica ou espiral, a percepção da vida dependerá da forma como iremos narrá-la. Seja para nossos filhos ou para nós próprios, para leitores distantes ou parentes próximos. Mas sempre haverá histórias para serem narradas e preencherem de “verdade” as nossas esmaecidas e sempre confusas lembranças. Histórias que o traço rústico de um ilustrador hábil ou a plasticidade tridimensional de um estúdio de animação poderão nos contar de variadas formas, estando sempre aberta a possibilidade de ampliá-las, reduzi-las, sintetizá-las ou aprofundá-las.

Referências
Milne, A. A. (2018). Ursinho Pooh. São Paulo: Martins Fontes.
Milne, A. A. (2018). A Casa no Cantinho do Ursinho Pooh. São Paulo: Martins Fontes.
Eco, Umberto. (1989). A Inovação do Seriado. Sobre espelhos e outros ensaios. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Serelle, Marcio. (2022) A adaptação como ficção expandida na série contemporânea. MATRIZes. São Paulo, Brasil.
Audiovisual
Disney (Criação e produção) (1977). As Muitas Aventuras do Ursinho Pooh. Filme.