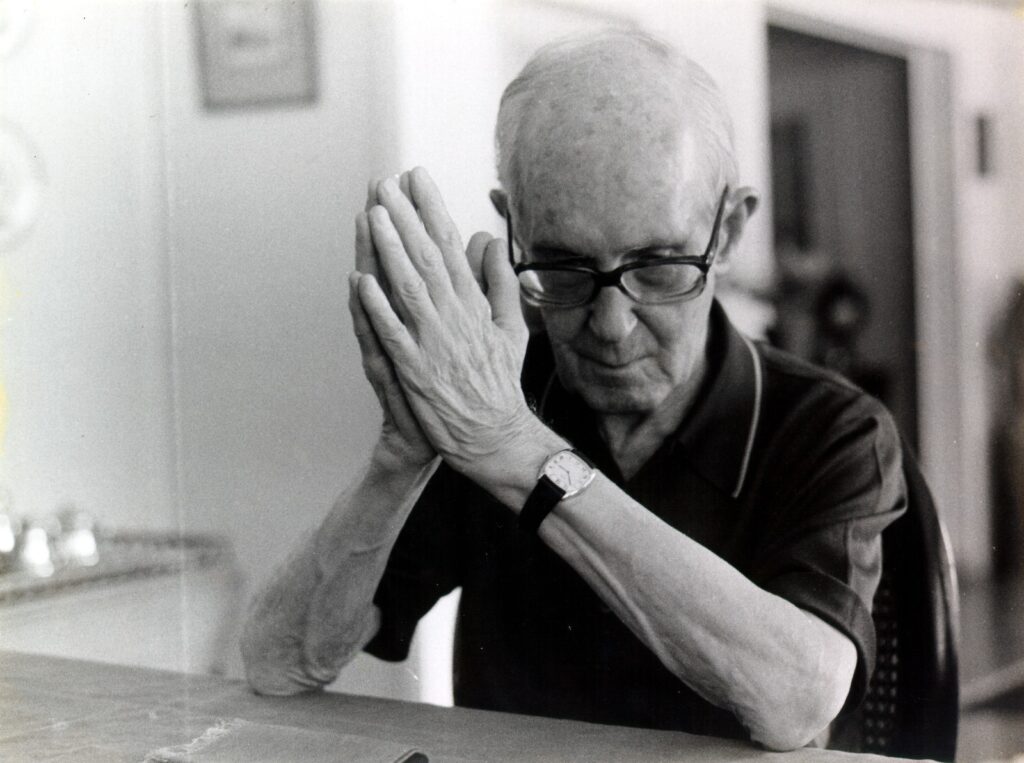*por Raphael Vidigal Aroeira
“Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida” Carlos Drummond de Andrade
No longo e reflexivo poema “Tabacaria”, escrito em 1928 e publicado em 1933, na Revista Presença, o português Fernando Pessoa (1888-1935) investe-se do heterônimo Álvaro de Campos para dizer, a tantos versos, em tom assumidamente confessional:
Fiz de mim o que não soube,
E o que podia fazer de mim não o fiz.
O dominó que vesti era errado.
Conheceram-me logo por quem não era e não
desmenti, e perdi-me.
Quando quis tirar a máscara,
Estava pegada à cara (Pessoa, 1933, Revista Presença)
Nesse ínterim, Carlos Drummond de Andrade estreou na literatura com “Alguma Poesia”, de 1930, em que consta o célebre “Poema de Sete Faces”. Se recorremos a Fernando Pessoa para analisar outras interpretações acerca desta criação singular do poeta itabirano é porque nos interessa a ideia de “máscara” como algo pegado à cara, que, ao cobrir o rosto original deforma-o e transforma-o em um terceiro elemento, que, ainda assim, torna-se indissociável do primeiro. “Conhecer é inserir algo no real; é, portanto, deformar o real”, afirma o poeta italiano Carlo Emilio Gadda.
A aparente identificação de algo “pegado à cara” não se dá por inteiro porque, não obstante, trata-se de uma “máscara”, palavra de forte teor simbólico que elimina uma relação orgânica, natural, e, em última instância, apaziguadora. Como elemento externo à constituição do ser, a máscara torna-se extensão distorcida, artifício de contato entre o eu interior e o mundo das coisas.
O que nos permite traçar um paralelo com uma das definições do filósofo italiano Giorgio Agamben sobre o contemporâneo, que, para nós, esclarece as imbricações possíveis entre Pessoa, Drummond e os futuros participantes desta análise.
A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a este aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. (Agamben, 2009, p.59)
No poema de Pessoa, permanece o incômodo com a máscara que se pegou ao rosto, numa “adesão distanciada”, por assim dizer, ou falta de identificação total com esse elemento externo ao ser, cuja separação entre um e outro, no entanto, é mínima, mas subsiste. Essa falta de coincidência plena com algo que se vivencia e se relaciona ao ser de maneira intensa, ambígua e contraditória será a tônica das canções que tomam como ponto de partida o “Poema de Sete Faces”, de Drummond, tornando todos os inspirados em contemporâneos do inspirador, tanto quanto Pessoa e Drummond, cujos poemas foram publicados com breve intervalo de tempo cronológico.
A carga existencial presente em ambos os poemas nos leva a “Let’s Play That”, parceria do poeta Torquato Neto com o músico Jards Macalé, que iremos tratar seguindo a lógica analítica de Adelia Bezerra de Meneses, estudiosa da obra de Chico Buarque, nosso próximo contemplado. A crítica literária utiliza o termo “poema-canção” ao se debruçar sobre uma obra musical, insiste que se detém “sobre as letras das canções”, e, questionada acerca da metodologia empregada, reivindica viés histórico que retoma o tema da contemporaneidade.
Mas essa junção de melodia com letra não é um fenômeno contemporâneo: desde a mais remota Antiguidade, a poesia vinha amalgamada com a música: lírica é a poesia acompanhada ao som da lira. Mas não só na Antiguidade grega, também na Idade Média, na época do Trovadorismo, menestréis e jograis cantavam suas composições, originalmente acompanhados seja pela lira, harpa ou alaúde (…) E uma última observação, meio de brincadeira, meio a sério: você fala em “analisar canções, logo obras musicais”, e eu pergunto, provocando: por que não “analisar canções, logo obras literárias”? (Meneses, entrevista a O Tempo, dezembro de 2024)
A mesma Adelia escreve em “Desenho Mágico: Poesia e Política em Chico Buarque”: “só vale a pena a gente se debruçar sobre o passado quando é para se entender melhor o presente”, e afiança que, “na utopia, conciliam-se presente e futuro”. Pois em 1972, Jards Macalé estreou em disco com o álbum homônimo. Afinal temos outro paralelo: o de artistas que, em seus passos inaugurais na trajetória artística, seja na literatura ou na música, evocaram o discurso do descompasso, da marginalidade, da assimetria, condensado na poderosa imagem do “anjo torto” surgido no ímpeto do nascimento, que, sem dúvida, constitui outro acontecimento primevo e inaugural, como se, assim, Drummond, Torquato e Macalé se apresentassem ao mundo com uma atitude de distensão. Voltemos a Agamben.
Por isso os contemporâneos são raros (…) ser contemporâneo é, antes de tudo, uma questão de coragem: porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós (Agamben, 2009, p.65)
Roland Barthes vai mais longe, sintetizando que “o contemporâneo é o intempestivo”. Quer atitude mais intempestiva do que desafinar o coro dos contentes? É o que propõe o eu lírico de “Let’s Play That”, ao, como sinaliza o músico e pesquisador Rogério Skylab em seu livro de ensaios “A Melodia Trágica”, enunciar a “paráfrase do ‘Poema de Sete Faces’, de Drummond, colada a uma citação de Sousândrade”, poeta do romantismo barroco recuperado pelos concretistas Haroldo e Augusto de Campos, de cuja fonte, provavelmente, bebeu Torquato para compor uma obra (des)ancorada entre o tropicalismo e a marginalidade da chamada “Geração Mimeógrafo”, ao lado de Chacal, Ana Cristina Cesar, Wally Salomão, dentre outros.
Na visão de Skylab, no entanto, a canção de Torquato/Macalé “exclui a ambiguidade e a ironia do poema drummondiano, mantendo do início ao fim o mesmo tom sério e automitificador (eu desafinado versus mundo dos contentes)”. Em outro trecho de seu ensaio sobre Torquato dedicado a “Let’s Play That”, Skylab reforça o “diálogo com o Barroco (…) que evidencia um entrecruzamento dialógico, próprio da razão antropofágica”. Mas, para além da antropofagia e do dialogismo, podemos nos valer uma vez mais de Agamben para conceituar a postura crítica de Torquato nessa letra, em suas interrelações temporais que alcançam o arcadismo barroco e a modernidade drummondiana.
A contemporaneidade se inscreve no presente assinalando-o antes de tudo como arcaico, e somente quem percebe no mais moderno e recente os índices e as assinaturas do arcaico pode dele ser contemporâneo. (Agamben, 2009, p.69)
O próprio Skylab não resiste à terminologia ao analisar as relações de “Let’s Play That” com o “Poema de Sete Faces” e “Até o Fim”, canção de Chico Buarque igualmente inspirada pelo “anjo torto” de Drummond.
Quando Glícia Vieira coloca em contraste o ‘Poema de Sete Faces’ (Drummond), ‘Let’s Play That’ (Torquato) e ‘Até o Fim’ (Chico Buarque), o que fica escondido no comentário é o fato de que apenas no texto de Torquato há uma identificação entre o narrador-personagem e o anjo (já em Drummond o anjo vem das sombras e em Chico é um querubim safado). Apenas em Torquato, anjo e narrador-personagem se identificam, além de serem contemporâneos. (Skylab, 2023, p.46)
É com a interjeição “vá, bicho, desafinar o coro dos contentes”, fazendo uso de uma gíria corrente na época, que o “anjo torto” de Torquato se dirige ao eu lírico, com um aperto de mão e um “sorriso de dente” que demonstram nitidamente a concretude e palpabilidade desse encontro, além das “asas de avião”, outro sinal de presença inconteste que quase transforma em máquina essa figura habitualmente etérea. Todavia, a contemporaneidade entre Torquato e seu “anjo louco, solto, torto, doido”, que, como cigano, lê a sua mão, e que o compositor faz questão de frisar não ser barroco, a despeito da citação a Sousândrade, ou por causa dela mesma, possui uma camada de profundidade além da detectada por Skylab. Como nos objeta Agamben:
Contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a história. (Agamben, 2009, p.72)
Ler de modo inédito a história é precisamente o que realiza Torquato ao dividir e interpolar o tempo tecido entre o modernismo, o barroco e o presente que pulsa incessantemente em suas veias, transformando-o e relacionando-o, com sua máscara, à face drummondiana, que, no íntimo, identifica-se, senão com toda humanidade, a essa parcela de raros e corajosos conhecidos como contemporâneos, que, segundo Agamben, recebem “em pleno rosto o facho de trevas que provém do seu tempo”, não se deixam “cegar pelas luzes do século” e conseguem “entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade”.
Sem espaço para conciliação, a radicalidade discursiva de Torquato nos provoca essa intensidade do “poeta, que devia pagar a sua contemporaneidade com a vida”, como “aquele que deve manter fixo o olhar nos olhos do seu século-fera, soldar com o seu sangue o dorso quebrado do tempo”. “O poeta, enquanto contemporâneo, é essa fratura, é aquilo que impede o tempo de compor-se e, ao mesmo tempo, o sangue que deve suturar a quebra”, conceitua Agamben, ecoado por Adelia Bezerra de Meneses.
O grande poeta vai sempre revelar um radical não colaboracionismo: Lírica é ruptura, a gente lê também em Adorno. De fato, toda Literatura é, quer queiramos quer não, engendrada de um solo cultural: histórico, social, político. No entanto, em tempos adversos como o nosso, nunca, nunca a grande poesia duplica valores e a ideologia dominantes, mas necessariamente rompe com eles. Resiste. (Meneses, entrevista a O Tempo, dezembro de 2024)
Há, mesmo, uma atitude de soltura e desprendimento, de lançar-se ao espaço, de flutuação, de pairar sobre o plano da conformação por parte desse anjo torto e doido com asas de avião, como flagramos na própria maneira como Jards Macalé entoa os primeiros versos da letra: as palavras praticamente pululam de sua boca. Essa inconteste leveza só pode nos conduzir a Italo Calvino e suas “Seis Propostas para o Próximo Milênio”, o livro inacabado do escritor italiano, que definiu: “A palavra associa o traço visível à coisa invisível, à coisa ausente, à coisa desejada ou temida, como uma frágil passarela improvisada sobre o abismo”. Sim, a palavra tornada “anjo torto” de Torquato flutua sobre o abismo. E, mais do que isso, solicita o Impossível a seu poeta.
A literatura só pode viver se se propõe a objetivos desmesurados, até mesmo para além de suas possibilidades de realização. Só se poetas e escritores se lançarem a empresas que ninguém mais ousaria imaginar é que a literatura continuará a ter uma função. (Calvino, 1990, p.127)
O mesmo Calvino assinala que “a poesia do invisível, a poesia das infinitas potencialidades imprevisíveis, assim como a poesia do nada, nascem de um poeta que não nutre qualquer dúvida quanto ao caráter físico do mundo”. Em Torquato, o mundo apresenta anjos tortos, sorriso de dentes e asas de avião.
Essa leveza também se apresenta em “Até o Fim”, canção lançada por Chico Buarque em 1978, segunda máscara que pegamos à cara do poema-rosto de Drummond, com seu narrador errante que se movimenta à procura de uma terra firme, sólida, definitiva, mas que parece sempre escapar-lhe das mãos como fim inatingível.
Logo de saída, o protagonista, ao nascer, recebe a visita de “um anjo safado, o chato do querubim”. Aqui, notamos a primeira diferença entre o anjo buarqueano com seus pares, tanto o obscuro de Drummond que vive na sombra e lhe recomenda ser “gauche na vida”, palavra prenhe de gravidade e peso, até pelo uso do idioma estrangeiro, quanto o doido de Torquato e sua coloquialidade marginal, que se reporta ao eu lírico com a gíria “bicho” e grita feito um doido.
O anjo de Chico está mais próximo de Macunaíma, anti-herói da saga modernista de Mário de Andrade, com sua malemolência safada, uma malícia própria da dolência de quem se espreguiça por entre as frestas de uma realidade opressiva, em que é preciso ter ginga e jogo de cintura para sobreviver. A escolha da palavra “querubim” como alternativa a “anjo” também empresta toda uma sonoridade que corrobora esse entendimento, como algo gracioso, sereno, e, ao mesmo tempo, provocativo e tentador, mais próximo ao humano. Esse querubim é chato porque revela ao eu lírico seu inevitável destino de dissabores.
Ao invés do anjo, agora é o próprio caminho que se revela sinuoso e curvo. “Já de saída a minha estrada entortou/ Mas vou até o fim”, entoa Chico, pondo em relevo a oposição que marca a letra, que é o embate entre desejo e realidade. A obstinação do protagonista em tudo contrasta com suas condições materiais. Ainda assim, ante todas as evidências e adversidades, contra até mesmo uma profecia divina, ele não perde a esperança, nutrindo uma inacreditável teimosia e insistência que, em sua retina, é capaz de modificar o mundo: “Um bom futuro é o que jamais me esperou/ Mas vou até o fim”.
A fluidez da narrativa, que adota um tom cômico e altamente irônico, remete à rapidez solicitada por Calvino para o novo milênio. “Todos os meios são bons, todas as armas, para escapar à morte e ao tempo”, escreve Carlo Levi, citado por Calvino, simbolizando o empreendimento do protagonista em seu lépido perambular diante de um destino nada auspicioso. Em outra passagem, o crítico italiano afirma que “só a esperança e a imaginação podem servir de consolo às dores e desilusões da experiência”. E complementa:
O homem então projeta seu desejo no infinito, e encontra prazer apenas quando pode imaginá-lo sem fim. Mas como o espírito humano é incapaz de conceber o infinito, e até mesmo se retrai espantado diante da simples ideia, não lhe resta senão contentar-se com o indefinido, com as sensações que, mesclando-se umas às outras, criam uma impressão de ilimitado, ilusória mas sem dúvida agradável. (Calvino, 1990, p.78)
Parece-nos ilimitado e ilusório o desejo irrefreável do protagonista de “Até o Fim”, mas com que graça ele se apresenta pela condensação poética de Chico, longe de qualquer amargura, rancor ou cinismo. Embora muitas das vezes ridículo, o papel a que o eu lírico é submetido atinge o ouvinte com ternura, em razão do afeto compreensivo que o compositor lhe dedica. Não escapa ao olhar/ouvido atento que o uso das terminologias “im”, além do efeito de rima, cria uma sensação de estridência e histrionismo que converte a cena numa comédia ágil, ligeira, levíssima, em que o trágico é superado pelo humorismo.
“Não sou ladrão, eu não sou bom de bola/ Nem posso ouvir clarim”, explica o artista mambembe, que, ao mencionar esse instrumento musical nos traz à memória o famoso verso de “Dora”, de Dorival Caymmi, sobre “os clarins da banda militar”, sugerindo, talvez, que essa carreira muita das vezes ofertada a pessoas em situação precária como a sua tampouco serve de opção para um sujeito assaz desfeito de sorte. Tudo o que é miséria lhe sucede, desde ser abandonado pela mulher, que “fugiu com o dono da venda”, até ter o bandolim quebrado por conta da “voz chinfrim” que emerge de sua frágil garganta, de resto depauperada como seu ser, pois ele é “todo ruim”. E, antes que a próxima tentativa se revele vã, o sujeito avisa aos desavisados: “Mas vou até o fim”, possivelmente imaginando um túnel de possibilidades infinitas e intermináveis?
Recém-lançada em 2024, no segundo volume da “Trilogia do Fim”, de Rogério Skylab, a canção “O Grande Dia” conversa com todas as suas predecessoras e aponta um rumo completamente diverso. Até hoje, a melhor definição sobre Skylab nos foi dada pelo sociólogo, crítico e pesquisador musical Marcos Lacerda, no prefácio de “A Melodia Trágica”.
Skylab é um dos mais bem preparados artífices do gesto imprevisível, perigoso e, mesmo, enigmático, de se trazer ao ser aquilo que é do domínio do não ser. Em suma, de fazer a criação, estimular a invenção de formas, não só artísticas, mas também críticas e conceituais e, com isso, movimentar o espírito do mundo, com senso de medida e exasperação, com domínio do conceito e desespero da dúvida (Lacerda, 2023, p.9)
Se o anjo que aparece instantaneamente após o nascimento é o mote comum desde o “Poema de Sete Faces”, de Drummond, em Skylab ele anuncia “que para cada um o grande dia vai chegar”. Eis a primeira diferença. O compositor abandona a subjetividade do indivíduo em direção a um coletivo amplo e diverso, politizando seu discurso com uma invectiva centrada na própria formação da sociedade brasileira: “Preto, branco, índio, mulato, cafuzo, mameluco, amarelo/ Me falou que para todo mundo o grande dia vai chegar”, enumera. Se em Chico Buarque o eu lírico surge como representante de uma coletividade abstrata, em Skylab a horda da coletividade toma corpo. Já em Torquato e Drummond, o indivíduo é o centro da trama.
O que Skylab prenuncia para essa horda é, simplesmente, a morte, comum a todos e individual para cada um. O que ele vaticina, no momento do nascimento, não é o presente, tampouco o passado e sequer o futuro, embora ele vá chegar, mas essa construção da finitude que começa a se elaborar nesse momento, ora, contemporâneo, conectando todos os tempos e deixando-os inextricavelmente imbricados. A morte é a condição de todo nascimento, é o que nos arremessa na face Skylab, com sua terceira máscara para o poema-rosto de Drummond, em sua reflexão existencialista. “O terrificante e inconcebível se aplicam não ao vácuo infinito, mas à existência universal”, escreve Calvino.
O anjo anunciador skylabiano, como o de Drummond, Torquato e Chico – neste caso, associado à metonímia da estrada –, é torto e “habita a vala negra”, como se fosse um ser que, a despeito da aparência angelical possui uma essência endemoniada. Cumpre dizer aqui que a canção traz uma parceria com o pianista Leandro Braga, e isso porque a estrutura composicional apresenta uma segunda parte que destoa e desmente completamente a primeira, em clara oposição tanto rítmica quanto melódica e discursiva. Do ponto de vista melódico, a canção de Torquato/Macalé caminha para o caótico, a de Chico mantém-se harmônica, enquanto Skylab invoca uma dissociação que elide uma e outra.
Nesse segundo trecho do percurso poético e narrativo de “O Grande Dia”, aparece-nos, como vindo do além, um trem que emerge fantasmagoricamente do sertão, com “tanta gente querendo chegar”, numa “viagem infinita pro rumo do mar”. Talvez o compositor aluda ao próprio trajeto de Drummond, que rumou do sertão mineiro para o mar do Rio de Janeiro, porém, esse “trem na imensidão vem correndo/ mas não vai chegar/ o seu destino é o mar”. Logo, compreendemos a morte como experiência da ausência, em que o acontecimento se encerra no instante em que ocorre, impedindo a apreensão do ser, o que é corroborado pela própria metáfora do mar, com a sua imensidão de concretude aterradora, ao mesmo tempo fluida, inapreensível e impenetrável.
Torna-se pertinente, portanto, recuperar outro segmento importante da análise de Skylab sobre “Let’s Play That”, que, em 1984, recebeu novo registro, agora com a interpretação de Macalé e do percussionista Naná Vasconcelos, aprofundando seu experimentalismo de linguagem em duas gravações diferentes e carregadas de improvisação. “No caso de ‘Let’s Play That’, a sina não é a volta, mas um ir contínuo: ‘vai bicho desafinar o coro dos contentes’. A sina, nesse caso, não é um retorno ao mesmo, mas um contínuo processo de desafinação”, conjectura Skylab.
Esse ir como moto contínuo e interminável, como uma linha que se perde no horizonte é a própria conclusão a que se destina a canção de Skylab. Em “O Grande Dia” a ambiguidade se afirma na relação do ser, imerso na coletividade, com a morte individual. É a morte que inevitavelmente chega como condição existencial coletiva, mas que não se experencia na subjetividade do ser senão como uma angustiante ausência, como “nada”. “Ser contemporâneo significa voltar a um presente em que jamais estivemos”, escreve Agamben.
Lembremo-nos, então, das palavras de Georg Christoph Lichtenberg: “Creio que um poema sobre o espaço vazio poderia ser sublime”. A sublimação feita por um anjo torto, que, no ato do nosso nascimento, anuncie o fim, tanto inevitável quanto inconcebível, como uma máscara que se pega ao rosto? Eis a poesia, “grande inimiga do acaso, embora sendo ela também filha do acaso e sabendo que este em última instância ganhará a partida”, arremata Calvino.
Referências
PESSOA, Fernando. Tabacaria. Revista Presença. Arquivo de internet. 1933.
AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Editora Argos, 2009.
CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. Companhia das Letras, 1990.
MENESES, Adelia Bezerra de. Desenho Mágico: Poesia e Política em Chico Buarque. Ateliê Editorial, 2002.
SKYLAB, Rogério. A Melodia Trágica. Hedra Editorial, 2023.